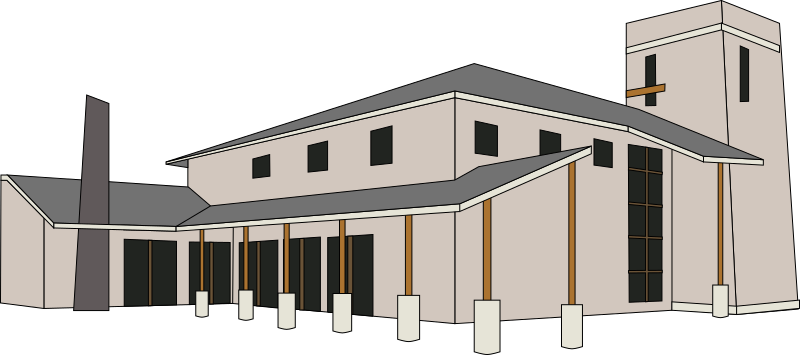Um imenso copo d’água, na frente de olhos enormes, conhecidos e desfocados. Demorei um pouco até compreender o que estava acontecendo. Não sabia se dormia, se sonhava ou se alguém me chamava. “Ei, o que houve?”, indagou. Tinha as roupas ensopadas e uma ansiedade que fez o coração disparar. “Foi um pesadelo, acho”.
Era a dona Dita, minha avó. Aparecia em cima de um cavalo forte e escovado, com vestido de chita cruzado por cinturões carregados de munição de grosso calibre. Na cintura direita, um Colt Cavalinho, cabo branco de osso. Na esquerda, uma Luger 9mm, além de uma afiada peixeira de palmo e meio de comprimento. Nas costas, o rifle de combate. No borná pendurado, produtos de beleza e uma botelha com cachaça. Trazia ainda, em bolsas de couro, apetrechos para costura. Duas tranças apertadas e bem feitas, desciam-lhe, roçando as orelhas.
Ela estava, ora sozinha, ora acompanhada. Diversos cavalos e cavaleiros, com vestimentas e armamento parecidos, figuravam na retaguarda e sumiam. Quando sumiam, restava apenas um cavalo e um cavalheiro mais junto da amada bela; vaidoso, de chapéu de palha, só fazia era cuidar dela.
As imagens do fundo se moviam e se alteravam como se passadas em um telão de cinema. Foquei em uma cena que mostrava uma casa em chamas e um furdunço danado. Afastando um pouco, era possível notar duas meninas que disparavam para longe do fogaréu. Uma delas se perdia na mata. A outra, sozinha, sentou-se junto ao pé de uma oiticica, aos prantos, com as pequenas mãos cravadas na terra.
O choro se apressava em conter-se. A menina franzina e birrenta, começava então a desenhar coisas incompreensíveis no chão. Diante da tragédia, ela arranjava um tempo para brincar, até que se lembrava do acontecido e voltava a chorar. “É Mariinha, tua mãe, visse, minino? A que se perdeu é tua tia. Foi um cão dos infernos até achar essas meninas naquele mei de mato que só Deus. A valença foi um empregado da fazenda e os vizinhos que escarafuncharam tudo. De vez em quando, teu avô, ⏤ e olhava com ternura para o homem de chapéu ao seu lado ⏤, dava um pipoco pra riba pra mode assustar as onças. Perdimos tudo e descorçoamos. Fumu pra Sum Paulo.”
Havia também uma mulher arrastada pelos cabelos e que, apesar do jeito esquisito, aceitava o seu destino, mansamente. Ela fora retirada da sua tribo e levada para outra aldeia longe onde passaria a viver com o homem que a arrastava até o fim dos seus dias. “Essa era minha mãe, tua bisavó. Com ela aprendi tudo o que sei de rezas. Desde as que curam até as que abrem e fecham o corpo contra qualquer mal, seja de punhal assassino, seja de bala perdida ou endereçada”.
“Mas, apois, vamu acabar com essa prosa arrastada. Trago aqui um escapulário que passa de mãe para filha. Dentro dele, apertadinho, em papel feito sanfona, a oração, Salve Rainha, que protege essa família desde há muito tempo. Mariinha tem o seu, que não pode ser dado, vendido ou rebolar no mato. Em todas as tuas arengas, ela valeu-se da santinha, teve o joelho sangrado por tanto amor que lhe tem. Ela deposita em tu toda a esperança. Te ama como a ninguém nessa vida. Já lhe perdoou os pecados. Perdoa, tu, os dela também. Toma, é teu”.
“Vou chegando. Antes, deixo uns versinhos. Assunta bem, meu netinho, filho de Marinha:
Atentai ó meu netinho
nos conselho que lá vai:
não se zangue com Maria,
compreenda o teu pai.
O teu pai foi cantador,
o mais branco que se viu,
empunhava a viola
deixando o mundo no cio.
Violeiro da porteira,
bem conhecido ficou,
no repique da viola
tua mãe arrebatou.
O café que era a mina,
a crise o consumiu:
“vamo embora, meu marido”,
Mariinha decidiu.
Foi embora sem um nada
com os quatro filhos seus,
arregaçou as mangas
na fé em Jesus e Deus.
Se instalou naquele sítio,
pra favela não iria,
enfrentou as tempestades,
é porreta essa Maria.
Teve altos, teve baixos,
mas a vitória alcançou,
a maior Graça da vida,
vê-lo um dia, escritor.
(Texto publicado na primeira edição, ano 2, da Revista Travessias Literárias, disponível em https://www.facebook.com/travessiasliterarias)